Foi com essas três frases da jornalista britânica Caitlin Moran que, aos 17 anos, me descobri feminista. Hoje, mais de meia década depois, eu provavelmente daria um suspiro de frustração caso me deparasse com a conclusão de “Como ser mulher” pela primeira vez. Foi o que fiz ao ler a primeira metade do artigo “Você tem um minuto para ouvir a palavra do feminejo?”
Nele, minhas colegas Amanda Audi e Nayara Felizardo argumentam que a cantora Marília Mendonça, por não se importar de ser chamada de “gordinha”, não tentar se encaixar em padrões e cantar sobre liberdade das mulheres, é uma espécie de feminista em negação, com um discurso muito mais eficaz do que o de quem se diz abertamente feminista. “E daí que elas não levantam a bandeira? Marília e suas amigas do feminejo são feministas sem dizer que são”, escrevem. “Quem se identifica com os valores propagados pelo feminejo também provavelmente se identifica com os valores do movimento feminista – só não sabe disso ainda.”
São afirmações simplistas e ingênuas. Marília se recusa a se identificar como feminista, porque de fato não é. O erro da “esquerda lacradora” não é, como sustenta o texto, condenar a cantora por ser feminista e não usar o termo. É colar o rótulo de feminista em qualquer celebridade que fale das questões de menor impacto coletivo do movimento, como direito à expressão da sexualidade, aceitação do próprio corpo ou união feminina – mesmo quando a celebridade recusa o rótulo. E, depois, se chocar com as falas antifeministas dessas mesmas pessoas, como se elas estivessem traindo um movimento de que nunca fizeram parte.
Foi o que aconteceu quando a cantora de feminejo Naiara Azevedo, que já havia negado ser feminista, afirmou que “o homem é cabeça, o chefe da casa”. Um internauta, irritado, comentou: “Depois vem com música de corna pra vender”.
É verdade que, numa sociedade em que um bocado de homem ainda se acha no direito de dizer o que a namorada pode ou não vestir ou fazer, não é coisa pouca ouvir uma mulher cantar “Tá pra nascer quem manda em mim” e ver a música cair no gosto popular. Mas concordar com essa letra não te torna feminista. Para isso, é preciso ir além da ideia de libertação individual.
Concordo que cantoras como Marília, Simara, Simaria e Naiara Azevedo “conseguem falar sobre empoderamento de mulheres – jargão esquerdista detectado – sem nunca dizer que estão falando disso” e, assim, conseguiram espalhar essa mensagem pra uma multidão que textos como os nossos não vão atingir. Da mesma forma, acredito que a definição de feminismo proposta em “Como ser mulher” é incrível para garotas entenderem se feminismo tem mesmo a ver com ódio aos homens ou à depilação. Spoiler:
Mas a afirmação de Caitlin Moran é só isso: uma porta de entrada amigável para um universo encoberto por mitos e estigmas. Resumir o feminismo a “querer ser dona da sua buceta”, além de excluir as mulheres trans, é reduzir um movimento político de mais de 130 anos a uma mera noção individualista de “empoderamento”.
À Folha de S.Paulo, ela [Marília Mendonça] falou que seu feminismo não é feito de teoria, textos ou protestos. “Protesto com minha vida, ao bancar tudo isso e falar que ia ser do jeito que sou e que ia conseguir o que consegui”.
É importante que mulheres sejam financeira e emocionalmente independentes? Com certeza. Mas, considerando que esse estilo de vida é completamente inacessível para a maior parte das mulheres, nem contribui para que se torne acessível, não traz bem coletivo nenhum. E já dizia a poeta e feminista negra Audre Lorde: “Eu não serei livre enquanto houver mulheres que não são, mesmo que suas algemas sejam muito diferentes das minhas.” Feminismo é sobre isso.
Vejam: o “empoderamento” individual ainda não representou uma mudança concreta na violência doméstica e sexual que as mulheres sofrem enquanto grupo (apesar da “moda” do feminismo de mercado, uma mulher ainda é agredida a cada 15 minutos no Rio de Janeiro e o Brasil tem a 5ª maior taxa de feminicídios do mundo); não nos livra de ter os empregos e subempregos menos valorizados; não põe fim à tripla jornada de trabalho; nem, no caso das mulheres negras, faz com que elas deixem de viver em condições mais precárias do que todo o resto da população.
Essas são questões que não se resolvem quando decidimos que queremos ser donas das próprias bucetas ou afirmamos que ninguém manda em nós.
São problemas sociais e políticos complexos que só podem ser enfrentados com luta política contínua, dentro e fora das instituições de poder. É isso que o feminismo representa: um movimento antissistêmico. Ou, pelo menos, é o que deveria representar.
O feminismo de mercadoria
Em 2015, as brasileiras tomaram as ruas e as redes em um movimento batizado de Primavera das Mulheres. O projeto de lei que pretendia dificultar o aborto em casos de estupro; o assédio da menina Valentina no Masterchef Brasil, que levou à criação da hashtag #PrimeiroAssédio; e a campanha #MeuAmigoSecreto, que revelou casos de machismo cotidiano, foram alguns dos elementos que fizeram o feminismo explodir no Brasil.

Buscas no Brasil pela palavra feminismo no Google entre 2011 e 2018. Em vermelho: agosto de 2012, data do lançamento de “Como ser mulher”; outubro de 2015, a Primavera das Mulheres; e setembro de 2018, o auge do interesse pelo movimento.
Gráfico: Reprodução/Google Trends
Essa primavera fez surgir novos grupos feministas, fortaleceu os já existentes e impulsionou a produção de conteúdo de linguagem acessível sobre o feminismo na tela e no papel. De três anos para cá, as livrarias foram inundadas de títulos sobre feminismo. A popularização do termo levou o próprio livro de Moran, lançado em 2012 com o subtítulo Um divertido manifesto feminino, sair em nova reimpressão para virar manifesto feminista.
Com o aumento do interesse pelo tema no Brasil e no mundo, não demorou para o mercado se dar conta de que o feminismo poderia ser lucrativo. Em 2014, a revista de moda Elle, a marca Whistles e a Fawcett Foundation lançaram uma camiseta com os dizeres “This is what a feminist looks like” [É assim que uma feminista se parece], usada por várias celebridades e vendida a cerca de US$ 70 para levantar dinheiro para caridade. O único problema? As peças eram produzidas por mulheres das Ilhas Maurício, no Oceano Índico, em condições análogas à escravidão. É assim mesmo que uma feminista deve se parecer?
Em março de 2017, dois meses depois de a busca por feminismo no Google atingir seu ápice nos Estados Unidos, a grife francesa Dior lançou a camiseta “We should all be feminists” [Sejamos todos feministas], em referência ao discurso de mesmo título da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. O preço? Módicos US$ 710, ou R$ 2.200, no câmbio da época.
Mas a venda de produtos com referências diretas ao feminismo não é a questão mais preocupante. A real armadilha está no uso do discurso de “empoderamento” para vender basicamente qualquer coisa. Em 2015, a Bombril reuniu Ivete Sangalo, Monica Iozzi e Dani Calabresa para dar às mulheres um recado: “Toda mulher é uma diva! E todo homem é devagar. Isso! Divou! Bombril: os produtos que brilham como toda mulher.” Olhem só, o acúmulo de tarefas domésticas pelas mulheres não é um problema, fruto do machismo, a ser resolvido. É prova do quanto elas são mais poderosas que o homens!
Marília Mendonça e as demais artistas do feminejo podem cantar sobre mulheres empoderadas e dizer que sua forma de protestar pela causa feminina é ganhando dinheiro, como se isso bastasse para mudar alguma coisa fora de suas vidas pessoais. Essas vendas do “empoderamento” como protesto e feminismo matam dois coelhos numa tacada só. Primeiro, transformam em fonte de lucro um movimento ligado à contestação do capitalismo – sim, porque um feminismo que não olha para as desigualdades de classe é um feminismo incapaz de transformar a vida da maior parte das mulheres. E, ao transformá-lo em mercadoria, passam à frente a ideia de que “mulheres podem ser feministas sem desafiar a si mesmas ou à cultura”, como critica a escritora bell hooks em seu livro “O feminismo é para todo mundo”.
Como assim? Bom, se você já entende que feminismo é a luta pela igualdade entre homens e mulheres, já deu o primeiro passo. Mas você está disposta a repensar e mudar seu comportamento para que o seu feminismo abarque mulheres socialmente mais vulneráveis do que você? Está disposta a ouvi-las? Essas são questões que o feminismo de boutique não vai levantar.
Incapaz de mudar as estruturas de poder, o feminismo de mercado é mais fácil de engolir do que o verdadeiro feminismo, enxergado como “radical” frente à falsa e inofensiva imagem vendida pelo mercado. E é ele que permite que cantoras como Marília Mendonça possam se passar por feministas aos olhos de parte da esquerda. Mas, no melhor dos cenários, tudo que esse feminismo faz é o que conseguem as músicas de Mendonça: ajudar as mulheres a se sentirem donas do próprio nariz. Não é pouco, mas, politicamente falando, elas ainda não são livres. Esse feminismo para por aí.
Explodam a bolha
Estamos vivendo um paradoxo. Por um lado, parece que a discussão sobre feminismo está em todo lugar: no Programa da Fátima, nas séries, nos livros, nas eleições… mas essa explosão feminista não é tão abrangente quanto as longas discussões e tretas online sobre assuntos como “lugar de fala” poderiam levar as militantes – entre as quais me incluo – a acreditar. Uma pesquisa da revista Cláudia divulgada em março de 2018 revelou que menos de um terço das brasileiras se identifica com o movimento feminista.
Levando esse número e o resultado da última eleição em conta, não há como discordar de um ponto central levantado pelo texto de minhas colegas Amanda e Nayara. É preciso que nós, mulheres feministas, aprendamos a comunicar nossas pautas de forma mais eficiente, abrindo mão de “expressões que pouco ou nada dizem para a maioria das pessoas fora da bolha”.
Sim, a definição de feminismo de Caitlin Moran me faria suspirar de frustração hoje em dia. Mas se “Como ser mulher” me dissesse que o feminismo é uma luta política e cultural que pretende derrubar o sistema patriarcal, imperialista, racista e heteronormativo que subjuga a todas as mulheres, mas em especial as mais pobres, LBT e não-brancas, a Bruna de 17 anos teria dado uma de Cabo Daciolo e corrido para as montanhas.
Convenhamos que a imagem que o senso comum pinta do feminismo, além de irreal, é bem desagradável – um movimento de mulheres raivosas, que odeiam homens, nunca se depilam (o que aparentemente seria um grande problema) e gostam de sair por aí profanando igrejas. Então, quem não conhece o movimento costuma vê-lo de forma negativa ou, pelo menos, com alguma suspeita. E, ao ser atropelada por um monte de jargão, a probabilidade de essa pessoa aderir a um “Não sou feminista nem machista, sou ser humano” e seguir a vida é muito maior do que a de pesquisar o que os jargões significam.
Alguns coletivos de mulheres já adaptam o discurso quando abordam temas feministas em eventos nas periferias ou nas escolas. Elas falam em movimento de mulheres em vez de dizer feminismo, por exemplo. Isso ajuda a romper a resistência das ouvintes e facilita a transmissão da mensagem.
O grupo Minas da Baixada, por exemplo, se define no Facebook como um “coletivo feminista interseccional, formado por mulheres da Baixada [Fluminense do Rio de Janeiro] e aberto a mulheres que desejem atuar na luta feminista na região”. Mas, ao participarem de atividades em escolas públicas e de rodas de conversas com mulheres, as integrantes evitam usar termos como “questão de gênero” e “patriarcado”. Com estudantes, fazem dinâmicas, como perguntar o que eles já haviam deixado de fazer por serem meninos ou meninas. Assim, eles mesmos refletem e chegam à conclusão de que o machismo atua em suas vidas. Com as adultas, o discurso também é adaptado, e a estratégia é abrir um espaço de escuta para que, a partir das falas das mulheres, possam ser trabalhados temas como racismo, machismo e desigualdade de classe.
O desapego dos chavões e, como falou a escritora Gabriela Moura nessa entrevista, a habilidade de adaptar nossas falas a diferentes públicos são essenciais para que mais mulheres conheçam o feminismo. E, com o tempo, poderem entendê-lo como um movimento complexo, plural e antissistema, e não como empoderamento à venda na loja de maquiagemda esquina. Passinhos de formiga, gente.
E não basta adaptar a linguagem. É preciso, como escreveu minha colega Juliana Gonçalves no Twitter, que a discussão sobre o feminismo se dê fora dos espaços privilegiados, chegando às mulheres periféricas.

Temos que parar de pregar para os convertidos. Todo evento que se propõe a debater o feminismo e suas pautas, mas é realizado numa área nobre e inacessível da cidade e só tem (ou tem desproporcionalmente) gente branca, de classe média ou alta que já sabe de tudo que é dito, é um evento feminista que falhou miseravelmente. Ponto. Não passa de um exercício de masturbação mental, em que todos terminam como começaram: alheios ao fato de que as horas gastas não contribuíram em nada para a sociedade e satisfeitos com o doce gostinho de terem suas convicções reafirmadas.
Já é hora de esse gostinho começar a ser amargo. Afinal, que explosão feminista é essa, sequer capaz de explodir nossas bolhas?
Nem tudo é derrota
Sim, o antifeminismo ganhou a luta de narrativas nessas eleições. E, sim, isso é prova de que precisamos repensar nossas estratégias de diálogo. Mas os ataques ao movimento e às feministas não teriam a ferocidade que tiveram se não estivéssemos fazendo algo certo.
Nós conseguimos colocar o feminismo no centro do debate e, com isso, vieram as pedras. Em seu texto sobre o feminejo, minhas colegas escrevem que Bolsonaro empregou a estratégia de dividir as mulheres entre “as que o apoiam e rejeitam o feminismo; e as femininas”. Uma de suas aliadas nos chamou de “vexaminosas e deselegantes”. Eduardo, o filho caçula, diz que “mulher que se dá o respeito” não é feminista.
Já era de se esperar. Do final do século 19, passando pelas décadas de 1960 e 1980 e, agora, de 2010, a campanha antifeminista continua recorrendo às mesmas jogadas. Somos feias, sujas, mal humoradas, putas ou mal amadas – e não é a adaptação do nosso discurso que vai dar fim a essa cruzada centenária. O que incomoda pessoas como os Bolsonaro não é nosso vocabulário, mas a possibilidade de mudança que nossas palavras representam.
Não devemos adaptar nosso discurso para fugir dos ataques, mas para mostrar o quanto são ultrapassados e mentirosos. O interesse pelo feminismo nesta década nunca foi maior do que em 2018. E, se essa década marca a quarta onda feminista, a curiosidade sobre o movimento é hoje a maior desde pelo menos a onda anterior, nos anos 1990. Se houve um momento para fazer o feminismo realmente explodir, é esse – e não podemos desperdiçá-lo. Então, sim, vamos aprender com a linguagem do feminejo e sua habilidade de se comunicar com as mulheres. Mas não vamos confundi-lo com feminismo. Quanto às pedras, que venham. Não é nada com que não estejamos acostumadas.
Fonte: The Intercept


















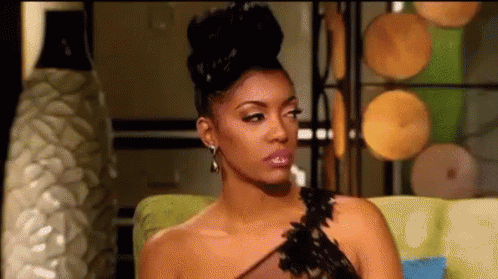

Nenhum comentário:
Postar um comentário